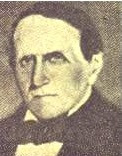HERÁLDICA SERTANEJA: O BRASÃO DA FAMÍLIA FEITOSA
Heitor Feitosa Macêdo
 |
| Brasão que falsamente atribui-se à família Feitosa. |
Em que pese o uso generalizado de
determinado brasão pela família Feitosa, a verdade aponta uma afirmativa
diversa, pois, nos termos das concessões da antiga nobreza europeia, esta
família não fora agraciada com títulos nobiliárquicos.
A criação dos símbolos, adotados pelos antigos clãs
familiares, não ocorreu apenas por mero deleite honorífico e nobiliário, mas,
principalmente, como meio de identificar os indivíduos e os vários grupos que
compunham a população em determinadas circunscrições.
Contudo, houve época em que as palavras não mais bastavam para
distinguir os diferentes grupos familiares, necessitando que outros meios
suprissem a manutenção dessa heterogeneidade. Desta forma, certamente passaram
a lançar mão de imagens que catalisassem o raciocínio discriminativo,
condicionando e fortalecendo o liame entre as abstratas formações sociais e a
concretude do visível.
Os nomes de família nem sempre seguiram a regra atualmente
estabelecida, posto que nos primórdios, as civilizações do velho continente
utilizaram um único nome para singularizar o indivíduo.
Dentre os povos que influenciaram o direito e o costume do
ocidente, encontram-se os hebreus, os quais inicialmente empregavam apenas um
único nome: Jacó, Ester etc. Doravante,
passaram a adotar um segundo nome, imposto pelo costume, sempre referente à uma
atividade laboral, ou mesmo em alusão à localidade de nascimento, como, por
exemplo, "Jesus", ao qual acrescentou-se "de Nazaré".[1]
Entre os Gregos e Romanos, também fora adotado primeiramente
um nome único, mas, à medida que a sociedade tornava-se mais complexa, a regra
de nominação sofreu alterações, findando na institucionalização de um trinômio.[2]
Na época em que a religião doméstica predominou na Grécia e
no Lácio, a família, ante o proeminência do direito privado, regeu-se pelo
culto dos mortos, mais especificamente dos ancestrais em comum, pais, avós etc.,
chamados de manes. Estes eram
considerados verdadeiros deuses, e cada família tinha os seus, além disso, eram
sepultados em túmulos no interior das casas, sendo inamovíveis, por isso
inalienáveis e indivisíveis, o que consolidou a propriedade privada sob a égide
divina.
O direito e a organização familiar giravam em torno dessa
religião, tendo por escopo principal a continuação do culto dos parentes
falecidos, por meio da manutenção de uma chama que nunca poderia se apagar, em
benefício dos mortos, caso contrário, estes ficariam a vagar nas trevas. Então,
para manter o fogo sagrado aceso, dever dos descendentes, era fundamental a
continuação dos clãs, e por conseguinte a perpetuação dos nomes de família.
Em Roma, os patrícios possuíam três nomes, por exemplo, Publius Cornelius Scipio, sendo
desmembrado da seguinte forma: Publius
era apenas um nome colocado antes do de família (proenomen); Scipio era
um nome acrescido ao cognome (agnome);
por fim, constituía seu verdadeiro nome Cornelius
(nomen), e igualmente de toda gens,
isto é, da família.
Cada gens transmitia de geração em geração, o nome do antepassado e perpetuava-o com o mesmo cuidado com que continuava o seu culto. O que os romanos chamavam propriamente de nomen era o nome do antepassado que devia ser usado por todos os descendentes e todos os membros da gens. Veio porém o tempo em que cada ramo, tornando-se independente para certas coisas, marcou a sua individualidade adotando o sobrenome (cognomen). Contudo, como cada pessoa devia distinguir-se por uma denominação particular, cada um teve assim o seu agnomen, como Caio ou Quinto. Mas o verdadeiro nome era o da gens, porque esse era o oficialmente usado, e o era sagrado; esse nome que, remontando ao primeiro antepassado conhecido, devia durar tanto quanto a família e os seus deuses. O mesmo sucedia na Grécia, romanos e helenos mesmo nesse detalhe se parecem.[3]
Com as invasões dos povos bárbaros, volveu-se a utilizar o nome único[4]. Logo após, no período da Idade Média, sob influência cristã, o nome verdadeiro foi o de batismo, ou seja, o individual, até o século XII. Mais tarde, apareceram os patronímicos (nome do pai), "como nomes de terra, ou como sobrenome"[5].
Cabe notar que esse processo, entre as sociedades cristãs,
ocorreu de forma inversa das antigas civilizações greco-latinas, pois, nestas,
primeiro surgiu o nome relacionado à família, e só posteriormente criou-se o
nome atinente ao indivíduo. Já os cristãos seguiram sentido oposto, porque
primeiramente aventaram o nome identificador do indivíduo, e só depois, atribuíram
a este o nome correspondente à família.[6]
Ainda na Idade Média, no furor das cruzadas, ascendem ao
poder os grupos mais aguerridos, mantenedores de exércitos particulares. Práticos
na arte do espólio, usurpando terras e fazendo alianças no fito de suster a
propriedade sobre o latifúndio.
Nesse momento delineiam-se as novas classes dominantes,
fervilhando por toda a Europa a formação de monarquias. Porém, os régulos
feudais não detinham cabalmente o poder sobre os seus domínios, dividindo-o com
os nobres. Estes, geralmente, eram indivíduos aparentados do rei, ou haviam angariado o título por meio de relevantes
serviços prestados à coroa.
Ser nobre concernia diretamente a uma relação de sangue, não
podendo alcançar esse status senão pelo nascimento. Contudo, essa regra foi
flexibilizada, permitindo-se uma equiparação em termos de privilégios. Isto sob
o critério de riqueza e capacidade militar, ou seja, possibilitou-se a formação
de uma nobreza de origem plebeia. Esse foi o marco para ascensão dos cavaleiros
e dos "senhores de pendão e caldeira".[7]
Durante esse período, além das investidas militares sobre os
Mouros, também era comum o enfretamento no interior da própria nobreza, com
foros de guerra privada. Por conta destas atividades beligerantes, tornou-se
comum o uso de emblemas que diferençassem os combatentes. Porquanto a figura
das armas foram preferencialmente as escolhidas, fazendo-se do escudo a marca
principal.
Na Europa, o anúncio dos torneios e duelos era feito ao som
de uma trompa de caça, sendo que o sopro para acionar o instrumento era chamado
de blasen, uma palavra de origem
germânica da qual derivou o termo brasão[8].
Assim, firmou-se a ligação entre os nomes, do indivíduo ou de
família, e o conjunto de armas (brasão), tendo ao centro um escudo, geralmente
esquartelado, isto é, dividido em quatro partes, e dentro destes outras figuras
individualizantes, como vieiras, castelos etc.
Em Portugal, ao final da Idade Média, o direito costumeiro
tendia a ceder espaço para as codificações, com forte influência do direito
Romano. Desta forma, por volta de 1446, surge em Portugal as Ordenações
Afonsinas, "o primeiro Código de toda a Europa, depois dos da Meia
Idade"[9].
No entanto, este fora sucedido pelas Ordenações Manuelinas, que perduraram de
1514 a 1521. Em seguida vieram as Ordenações Filipinas, as quais estiveram
parcialmente em vigor no Brasil até 1916, data em que foi criado o primeiro
Código Civil brasileiro.
Como reflexo de um processo histórico-cultural, o direito
português não deixou de tratar da matéria pertinente aos brasões. Pelo menos é
o que se observa no texto das Ordenações Filipinas, que previa sanções para
aqueles que alterassem ou usassem indevidamente as armas, insígnias e
sobrenomes de outrem.
Como os Blasões das armas e appelidos, que se dão aquelles, que per hoarosos feitos os ganharão, sejão certos sinaes e prova de sua Nobreza e honra, e dos que deles descendem, he justo que essas insignias e apellidos andem em tanta certeza, que suas familias e nomes se não confundão com as dos outros, que não tiverem iguaes merecimentos (...) Polo que ordenamos, que qualquer pessoa, de qualquer qualidade e condição que seja, que novamente tomar armas, que de Direito lhe não pertenção, perca sua fazenda, ametade para quem o accusar, e a outra para os Captivos. E mais perderá toda sua honra e privilégio de Fidalguia e Linhagem, e pessoa, que tiver, e seja havido por plebêo, assi nas penas, como nos tributos e peitas, e sem nunca poder gozar de privilegio algum, nem honra, que por razão de sua linhagem, ou pessoa, ou de Direito lhe pertença.[10]
Igualmente, para aquele que já tivesse armas, tomasse outras em seu lugar, perderia todas elas. Da mesma forma, aquele que modificasse, acrescentando ou retirando, algum caractere de suas armas poderia ser degredado para a África por dois anos, além de ter que pagar cinquenta cruzados ao Rei de Armas de Portugal.
Acrescente-se que os Chefes de Linhagem tinham a obrigação de
"trazer as armas direitas, sem differença, nem mistura de outras algumas
armas"[11].
Neste caso, era possível ser Chefe de mais de uma Linhagem, contudo, o número
máximo de armas que poderia trazer limitava-se a quatro, esquarteladas.
Os bastardos só poderiam trazer estas armas depois da
"quebra da bastardia", segundo ordem da Armaria. No mais, só poderiam
ostentar armas as pessoas cujos nomes estivessem assentados por Fidalgos nos
"Livros", o mesmo se estendendo aos seus descendentes; ou àqueles que
houvessem obtido a "special mercê" de Fidalgos.[12]
Em decorrência dessa distinção social, muitos privilégios
eram dados aos integrantes dessa aristocracia de sangue, em detrimento dos
demais. Por isso, ao tempo das revoluções do século XVIII, na França foram
abolidas as distinções jurídico-sociais, decretando a Assembleia Nacional, em
18 de junho de 1790, que a nobreza era uma instituição incompatível com a nova
organização do Estado, e que deveriam ser abolidos os títulos e brasões.
Sucessivamente, depois de dois anos,
documentos referentes aos nobres foram incinerados. Todavia, Napoleão I criou
uma nova nobreza e, como se não bastasse, durante a Restauração, a antiga
também foi reintegrada.[13]
Em Portugal a realeza vez ou outra experimentou a fúria dos
nobres, constando a ultima revolta da data de 3 de setembro de 1758, durante o
reinado de D. José, o que demandou uma repressão violenta. Por fim, com a
proclamação da República, um Decreto datado de 18 de outubro de 1910 aboliu os
títulos nobiliárquicos, distinções honoríficas e direitos de nobreza.[14]
Destaque-se que o simples uso dos sobrenomes, desvinculados
das armas, não possuía o condão de diferenciar satisfatoriamente uma classe e
outra, já que o uso da maioria dos nomes de família era utilizado vulgarmente,
ou seja, "os nomes de pessoas foram então, como até certo ponto ainda
hoje, em Portugal e no Brasil, os mesmo entre os grandes e humildes".[15]
No Brasil batizou-se a torto e a direito índios e negros com
as alcunhas cristãs, suprimindo-se os nomes aborígenes em face de uma
europeização nominal, como ocorrera a alguns índios que marcaram a história
nacional, sendo bastante ilustrativa a história de um herói da Guerra
Pernambucana, o índio Tabajara denominado Poti (do Tupi, 'camarão'), que por
conta de suas façanhas obteve o título de Dom, e uma nova identidade, passando
a se chamar Antônio Felipe Camarão, além da concessão de armas próprias
(brasão)[16].
Quanto aos escravos e
negros, era comum que estes adotassem os nomes de seus senhores, mesmo sem
possuir uma gota de sangue aristocrático.
No entanto, em certas ocasiões, principalmente durante a
independência do Brasil, quando o sentimento nativista aflorou no seio do povo,
fazendo-o acrescer aos seus patronímicos nomes autóctones, como ocorrera em um
ramo da eminente família pernambucana Albuquerque Cavalcante que passou a usar
Suaçuna como sobrenome.[17] No
Ceará, esse nativismo não foi menos intenso, ocorrendo em algumas famílias a
adoção de nomes indígenas, como Araripe, entre a família Alencar; Jucá, pela
família Feitosa. Outros foram: os Sucupira, os Mororó, os Ibiapina etc.
Mesmo havendo essa frouxidão nas regras de aplicação dos
patronímicos, só alguns poucos puderam ostentar e exercer poderes inerentes aos
verdadeiros nobres, pois as famílias segregavam-se em castas quase
impermeáveis, apoderando-se de imensidões do solo continental, excluindo o povo
não apenas pela simples aposição do sobrenome, mas, também, em virtude do
sangue, outro preponderante elemento de coesão da parentela.
Sem dúvida, a unidade
familiar foi o "grande fator colonizador no Brasil"[18],
ocupando o solo sesmarial e consolidando a economia, como unidade produtiva, pari passu estabilizando o mosaico
social; restando descartar a equivocada ideia de que o indivíduo, em si só, na
figura principalmente dos degredados, fora importante elemento para a
colonização do país.
Esse processo de ocupação determinou a íntima relação entre a
propriedade e a família, pois alguns epítetos clãnicos tornaram-se sinônimos de
dominação regional. Nos sertões do Nordeste era de comum conhecimento a
seguinte quadra:
Se fores a Pernambuco
Deves
de estar bem preparado
Por séculos pugnou-se pelo casamento consanguíneo entre os abastados, pois era uma maneira de preservar a propriedade ou aumentá-la. Nesse sentido, observou João Brígido: "Na antiguidade, as famílias ricas e afidalgadas do sertão casavam como gados, quase os pais com as filhas; tudo por amor dos haveres e da tribo"[20]. A mais, entre os sertanejos era comum exortar digressões genealógicas, subindo pelos costados até esbarrar "em papas, príncipes e nobres senhores o que era grande coisa para aqueles homens, embora os não fizessem mais gordos".[21]
Porém, esse costume não engendrava deliberadamente a ideia de
eugenia, pois a pureza de sangue era um predicado alheio tanto ao português
quinhentista, quanto aos primeiros ibero-brasileiros[22].
Ambos mestiços em decorrência das guerras de conquista e expansionismo
geográfico.
Os portugueses, desde o descobrimento, já detinham sangue
mouro em suas veias, e, depois de apeados na América, intensificaram a
mestiçagem deitando-se primeiramente com índias. Isto gerou um sem-número de
mamelucos, os quais formaram a base social da família brasileira, inclusive a
aristocrática, como os Dias D'Ávila, os Guedes de Brito, os Cavalcante, os Albuquerque,
os Holanda, cabendo destacar os paulistas, caboclos por excelência.
Logo, a pureza de sangue foi algo impraticável no Brasil,
restando às elites manterem-se no poder por meio da conjugação do patronímico (com
seus brasões, quando houvessem), do parentesco sanguíneo, e por fim, através do
critério de riqueza, preponderante requisito para a união dos clãs dominantes.
Contudo, determinados grupos familiares, apesar de plenipotenciários,
ostentavam sobrenomes desvinculados dos brasões, por não terem sido concedidos
nos moldes da Armaria portuguesa. Nesse caso, não podendo ser considerados
nobres, pois, para isto, havia a necessidade de que o título fosse doado ou
herdado. Por outro lado, para ser fidalgo era necessário haver conhecimento dos
antepassados nobres, de linhagem esclarecida, "filho de algo". Assim,
todo fidalgo é nobre, mas nem todo nobre é fidalgo.[23]
No caso da família Feitosa, há que se ponderar sobre seu
predicado heráldico, porque, como é sabido, essa alcunha, cuja etimologia remete
a palavra latina filicatus
(guarnecido ou ornado de feto)[24],
não consta entre as antigas linhagens portuguesas.
Porém há algumas décadas, passou-se a usar equivocadamente um
determinado brasão como pertencente à essa família. Todavia, um desacerto
cometido por algum venal heraldista.
Os primeiros exemplares desse brasão foram obtidos em Recife/PE,
em um estabelecimento comercial localizado no Parque Dois Irmãos, aonde, talvez
por engano, consignou-se à família Feitosa indevidamente um emblema nobiliárquico.
Mas esse erro é bastante escusável, pois a culpa recai
diretamente no superficial conhecimento histórico, principalmente o de cunho
regional. Isto pelo fato de a família em comento ter como primeiro patriarca,
no Brasil, o capitão João Álvares da Feitosa, o qual é presumidamente oriundo
da Vila da Feitosa, circunscrita pelo Concelho de Ponte de Lima, em Portugal.
Assim, conforme a indicação do predito apodo, "Feitosa",
antecedido da contração prepositiva "da", leva a crer que esse
sobrenome seja de origem toponímica, isto é, relativo ao nome de um lugar, no
caso, o da sobredita Vila lusitana.
Paralelamente, um indivíduo de destaque no Brasil imperial
também usou esse mesmo apelido, o Visconde da Feitosa, mais especificamente,
João Manoel Fernandes Feitosa, nascido em Portugal, na cidade de Valença, no
dia 10 de abril de 1836, sendo filho de João Fernandes Feitosa e de D. Mariana
das Dores Caldas Magalhães. Entretanto, o Visconde migrou para o Brasil ainda
jovem, estabelecendo-se no Rio de Janeiro, onde acumulou considerável fortuna,
além de notabilizar-se por iniciativas de cunho social.
No Rio de Janeiro, casou-se em 1864 com D. Ana Gonçalves Guimarães, e apenas no ano
de 1879 foi agraciado com o título de Visconde, por conseguinte, foi elevado à
categoria de Conde da Feitosa, em 1890.
Contudo, esses títulos lhe foram conferidos não em alusão ao
sobrenome Feitosa, mas em razão do patronímico Fernandes, ao qual atribuiu-se às
seguintes características: "Brasão
de armas: de Fernandes (a águia com um escudete sobre o peito). Coroa de
Visconde (depois de Conde). Timbre: de Fernandes. Diferença: uma brica de azul
com um besante de prata. (Concedidos por Cartas de 19-III-1870 e
26-II-1890)".[25]
Além do mais, o fato de esse Visconde (Conde) ter em seu nome
a alcunha "Feitosa", não há nada que comprove seu parentesco com os indivíduos
do mesmo sobrenome que ocuparam o Nordeste brasileiro em meados do século XVII,
duzentos anos antes do insigne Visconde chegar ao Brasil.
 |
| Brasão pertencente à família Fernandes e usado indevidamente pelos Feitosa. |
Destaque-se
que o patronímico da família Fernandes não tem uma só origem, entretanto,
destas, duas têm armas próprias, quais sejam:
 |
| Outro brasão dos Fernandes. |
Fernandes
Correia, feitor de D. João II na Flandres e cavaleiro da sua Casa, pelos
grandes serviços prestados ao Imperador Maximiliano I em 1488, com dinheiro,
recebeu deste mercê de armas novas. A alguns Fernandes que nada deviam ter de
comum com Diogo Fernandes Correia, deram os reis de armas como representando o
apelido Fernandes as que o Imperador Maximiliano lhe concedeu, alterando a
ordem dos quartéis. As armas usadas por estes Fernandes são: Esquartelado: o
primeiro de ouro, com uma águia de duas cabeças, de negro, armada de vermelho,
carregada de um crescente de prata no peito; o segundo de vermelho, com três
escudetes de prata, cada escudete com uma cruz de vermelho; o terceiro de
vermelho, com um castelo de prata; e o quarto de vermelho, com três vieiras de
prata. Timbre: uma águia estendida de uma só cabeça, de negro, com um escudete
do segundo quartel no bico, pendente de uma torçal de vermelho. Outros
Fernandes trazem por armas: De azul, com uma torre de ouro com seis bombardas
de negro, quatro saintes das ameias e duas de duas canhoneiras junto à porta.
Timbre: a torre do escudo.
Portanto, o brasão utilizado pela família Feitosa é na verdade o conjunto de armas concedido em favor do sobrenome Fernandes, o qual não guarda nenhuma relação com a predita família.
 |
| Brasão pertencente à família Álvares. |
Nesses termos, caberia invocar algum resquício de nobreza e
fidalguia no sobrenome "Álvares" (corrompido em "Alvres" e "Alves"),
usado conjugadamente, desde tempos remotos, adjunto do apelido
"Feitosa". Salientando-se que o mais ilustre representante deste sobrenome fora Pedro
Álvares Cabral, "descobridor do Brasil".
Em verdade, o patronímico citado possui brasão, no entanto,
sua origem é incerta, e seu uso em Portugal é tão vulgar quanto é o nome Silva
no Brasil, utilizado por inúmeras
famílias "sem comunidade de origem".[26]
A despeito do sobredito, o grupo Feitosa, em princípio,
ligou-se à família Cavalcante de Pernambuco, por conta dos dois primeiros enlaces
do Coronel Francisco Alves Feitosa (filho do Capitão João Álvares Feitosa). No
mais, os filhos desse mesmo Coronel também casaram-se na citada família.[27]
Desta feita, cabe falar em nobilitação dos Feitosa por esse viés, entestando nos
fidalgos Felipe Cavalcante, Jerônimo de Albuquerque e Arnaud de Holanda.
Finalmente, conclui-se que o patronímico Feitosa não possui
brasão, por isso excluído tanto da nobreza de Portugal quanto da brasileira,
apesar de ligar-se através de casamentos a algumas famílias afidalgadas.
BIBLOGRAFIA:
Alemão, Francisco
Freire, Diário de Viagem de Francisco
Freire Alemão, Fortaleza, Projeto Obras Raras, Fundação Waldemar Alcântara,
2011.
Araripe, Tristão
Gonçalves de, História da Província do
Ceará: desde os tempos primitivos até 1850, 2ª Ed., Fortaleza/CE, Tipografia
Minerva, 1958.
Armorial
Lusitano: Genealogia e Heráldica, Lisboa-Portugal, Editorial
Enciclopédia Lᴰᴬ, 1961.
Azevedo, Luiz Carlos de, INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DO DIREITO, 2ª
Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007.
Brígido, João, Ceará: Homens e Fatos, Fortaleza, Demócrito Rocha, 2001.
Cascudo, Luís Câmara, A Casa de Cunhaú, Brasília, Senado
Federal, 2008.
Coulanges, Fustel de, A Cidade Antiga, São Paulo, Martin Claret, 2005.
Feitosa, Leonardo, Tratado Genealógico da Família Feitosa, Fortaleza/CE,
Imprensa Oficial, 1985.
Freyre, Gilberto, Casa Grande e Senzala, 18ª Ed., Rio de
Janeiro, José Olímpio, 1977.
Maia, Virgílio, Rudes Brasões: Ferro e Fogo das Marcas
Avoengas, Cotia-São Paulo, Ateliê Editorial, 2004.
Nobreza
de Portugal e do Brasil,
Lisboa-Portugal, Editorial Enciclopédia Lᴰᴬ, Volume II, 1960.
Pequeno
Dicionário Latino-Português,
6ª Ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1955.
Pierangelli, José Henrique, Códigos Penais do Brasil: Evolução Histórica,
Bauru-SP, Editora Jalovi LTDA, 1980.
Venosa, Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Parte Geral, 5ª Edição, São
Paulo, Atlas, 2005.
[1] Venosa, Silvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Parte Geral, 5ª Edição, São Paulo, Atlas, 2005, p. 213.
[2] Idem.
[3] Coulanges, Fustel de, A Cidade
Antiga, São Paulo, Martin Claret, 2005, p. 119.
[4]
Venosa, op. cit., p. 213.
[5]
Coulanges, op. cit., p. 120.
[6] Ibidem.
[7] Nobreza de Portugal e do Brasil,
Lisboa-Portugal, Editorial Enciclopédia Lᴰᴬ, Volume II, 1960, p. 14.
[8] Maia, Virgílio, Rudes Brasões:
Ferro e Fogo das Marcas Avoengas, Cotia-São Paulo, Ateliê Editorial, 2004, p.
34.
[9] Azevedo, Luiz Carlos de,
INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DO DIREITO, 2ª Ed., São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 187.
[10] Pierangelli, José Henrique,
Códigos, Penais do Brasil: Evolução Histórica, Bauru-SP, Editora Jalovi LTDA,
1980, p. 80. (Código Filipino, Livro V Das Ordenações do Reino, Título XCII:
Dos que tomão insignias de armas, e dom, ou apellidos, que lhes não pertencem).
[11] Pierangelli, op. cit., p. 81.
[12] Ibidem.
[13]Armorial Lusitano: Genealogia e
Heráldica, Lisboa-Portugal, Editorial Enciclopédia Lᴰᴬ, 1961, p. 11.
[14]Armorial Lusitano, op. cit., p.
16.
[15] Freyre, Gilberto, Casa Grande e
Senzala, 18ª Ed., Rio de Janeiro, José Olímpio, 1977, p. 216.
[16] Araripe, Tristão Gonçalves de,
História da Província do Ceará: desde os tempos primitivos até 1850, 2ª Ed., Fortaleza/CE,
Tipografia Minerva, p. 111-135.
[17]
Freyre, op. cit., p. 451.
[18] Freyre, op. cit., p. 19.
[19] Alemão, Francisco Freire, Diário
de Viagem de Francisco Freire Alemão, Fortaleza, Projeto Obras Raras, Fundação
Waldemar Alcântara, 2011, p. 234.
[20] Brígido, João, Ceará: Homens e
Fatos, Fortaleza, Demócrito Rocha, 2001, p. 313.
[21]
Brígido, op. cit., p. 164.
[22] Freyre, op. cit., p. 9.
[23] Cascudo, Luís Câmara, A Casa de
Cunhaú, Brasília, Senado Federal, 2008, p. 147.
[24] Pequeno Dicionário
Latino-Português, 6ª Ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1955.
[25] Nobreza de Portugal e do Brasil,
Volume II, op. cit., p. 586 e 587.
[26] Armorial Lusitano, op. cit., p.
48-49.
[27] Feitosa, Leonardo, Tratado
Genealógico da Família Feitosa, Fortaleza/CE Imprensa Oficial, 1985, p. 14.